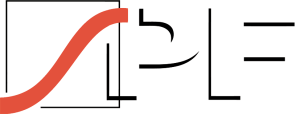Esquisso Histórico da Farmacologia em Portugal
JOSÉ GARRETT
PREFÁCIO
Por não ter merecido a aprovação formal do seu autor, talvez. seja um abuso editar o “Esquisso Histórico da Farmacologia em Portugal”. Servirá, contudo, como atenuante o facto de simplesmente se pretender honrar um vulto grande da Farmacologia portuguesa, reproduzindo a sua última alocução como farmacologista. O texto que se segue reproduz o original preparado pelo próprio aquando da sua apresentação à XIX Reunião da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, 9 e 10 de Dezembro de 1988, em Coimbra, tendo sido integradas no corpo do texto as notas inscritas à margem.
Que a leitura deste texto dê vida à memória que guardam desse dia, quantos o ouviram. Que o reviver dessa particular lembrança desperte outras memórias e se cumpra – como escreveu José Garrett – que ao ” … lembrar as raízes, se honre quem nos precedeu “. Que a emoção não turve a imagem da sua figura como Homem maior entre muitos, exemplo de verticalidade e pessoa de bem. Amante das “coisas” da Farmacologia, gastou os melhores anos da sua vida cumprindo, e ajudando outros a cumprir, na adversidade, com as exigências da ciência. Possuidor de raras qualidades de inteligência, mas suficientemente humilde para esconder dos restantes a diferença, não se poupou a esforços, exorcisando os espectros da incapacidade e vã glória de vencer, mais ou menos atávicas ao ser humano. Quando quem devia dar não dava, soube conseguir os meios, e construiu uma Escola, que não quis sua. Já não viveu a “abundância” de meios e a “facilidade” tecnológica de hoje, mas com lucidez bastante sentiu que as ditas não são terapia eficaz para os males da imperfeição e superficialidade. Que a sua mensagem, de justeza na vida e de procura da verdade na ciência, tenha eco, e todos quantos o conheceram e com ele conviveram sejam testemunhas vivas dessa postura. Honrar José Garrett é, claro, sentir amor às “coisas” da Farmacologia, mas, essencialmente, é não deixar cair a Alma no escuro poço da amargura sem esperança; é olhar-se, para dentro, exigente, e de frente, a quem nos olha, tolerante.
Patrício Soares da Silva
(Presidente da Sociedade Portuguesa de Farrnacologia)
Porto, 1997
Catedrático jubilado de Farmacologia da Faculdade de Medicina do Porto
Para situarmos a Farmacologia Portuguesa no contexto da Farmacologia a nível dos outros países, sobretudo europeus, onde ela nasceu, julgo aconselhável dar primeiro uma panorâmica sumária do que se passou nesses países antes de fazer um esquisso muito sucinto do que se passou entre nós.
Na história da ciência é sempre difícil traçar fronteiras entre fases diversas da evolução dos conhecimentos.
De qualquer forma, não há dúvida de que o aparecimento de medicamentos e, portanto, da Farmacologia, com bases verdadeiramente científicas, segue de perto, como era aliás obrigatório, o progresso da física, da química e das ciências biológicas, particularmente a fisiologia.
Não é, pois, de surpreender que a Farmacologia, como verdadeira ciência, só tivesse o seu começo na transição entre os séculos XIX e XX. Desde os tempos primitivos, porém, que o homem percorreu um longo caminho de aprendizagem empírica, que não deve ser desprezado. Na Europa e Próximo Oriente, esse longo caminho começou na Mesopotâmia e no Egipto, enriqueceu-se na Grécia e depois em Roma, foi absorvido e conservado nos mosteiros e pelos árabes depois da queda do Império Romano, foi recuperado ainda na Idade Média e depois na Renascença, em Salemo, Bolonha, Pádua, Montpellier e Paris, para chegar, enfim, à aurora do período científico, no século XVII, depois dos ensinamentos de Bacon e, mais tarde, de Galileu, Descartes, Newton e tantos outros.
De resto, Claude Bernard, o grande apóstolo da Medicina Experimental, não hesitou em escrever na sua célebre “Introdução”, que “na sua marcha através dos séculos, a medicina, constantemente forçada a agir, tentou inumeráveis experiências no domínio do empirismo e delas tirou úteis ensinamentos”. E Claude Bernard logo acrescentou: “Se ela foi marcada e perturbada por sistemas de todos os tipos, que a sua própria fragilidade fez sucessivamente desaparecer, não deixou por isso de executar pesquisas, adquirir noções e amontoar material precioso, que mais tarde terão o seu lugar e o seu significado na medicina científica”.
Por falta de tempo, lembrarei apenas que a primeira recolha de plantas medicinais foi escrita por Dioscorides no século 1. O grego Dioscorides deu grande atenção à adulteração dos sucos e extractos de plantas, identificou numerosos óxidos metálicos, sulfatos e sulfitos e inventou um método para obter artificialmente a calamina. Ele foi um verdadeiro precursor; mais do que isso, ele foi o fundador da Matéria Médica na Europa.
De resto, o ópio e uma vasta gama de extractos vegetais, contendo princípios activos que hoje conhecemos, foram utilizados, desde há séculos, em terapêutica.
No século II, Galeno publicou uma muito pormenorizada colectânea de fitopreparações medicamentosas, chamadas ainda hoje preparações “galénicas”. Depois de um longo período de quase silêncio, o árabe Avicena apresentava, no século XI, no seu “Canon”, 760 preparações.
É quase inimaginável, mas é verdade, que dos séculos Xll ao século XVIII os livros de Galeno e de Avicena tivessem sido, praticamente, os únicos guias utilizados em terapêutica no Ocidente.
Durante este longo período, a preocupação fundamental era a identificação botânica das plantas medicinais, a sistematização destas e a preparação de misturas de extractos vegetais cada vez mais complicadas. Esta tendência para a polifarmácia atingiu o seu auge na Idade Média. Foi preciso checar à Renascença para ver emergir, na primeira parte do século XVI, a figura estranha do suíço Paracelso, mistura de iconoclasta e de precursor, deambulando por toda a Europa até à sua nomeação como professor de medicina em Basileia. Paracelso ousou contestar o sistema polifarmacêutico galénico, queimar publicamente os livros de Galeno e de Avicena e sugerir a submissão dos medicamentos a uma pesquisa crítica. Ele dizia aos alquimistas: “0 objectivo da química não é a obtenção do ouro, mas o estudo das ciências fundamentais, para as utilizar contra a doença; são os medicamentos, não o ouro, o objectivo da química”.
Porém, só dois séculos mais tarde os votos de Paracelso começaram a concretizar-se, com os progressos da química e a aplicação do método experimental ao estudo da biologia. Em finais do século XVIII foi possível começar a dispor de meios de isolar as moléculas activas dos extractos das plantas medicinais. O primeiro desses princípios activos foi a morfina, isolada por Serturner em1806, isolamento depressa seguido pelo isolamento da cinchonina por Bernardino António Gomes, da nicotina por Posselt e Reiman, da quinidina por Heyningen, da atropina por Mein e, em França, da emetina por Pelletier, da quinina por Caventou, da estricnina por Magendie, da colchicina por Pelletier e Caventou, da digitalina cristalina por Nativelle, etc, etc.
Nesta época e um pouco antes há dois marcos miliários que vale a pena recordar.
Em 1760, Louis Cadet, farmacêutico do exército francês obtinha, pela primeira vez, a ligação de um átomo de arsénio a um átomo de carbono, fazendo aquecer juntos o acetato de potássio e o óxido arsenioso. Esta descoberta abriu a porta à síntese dos arsenicais orgânicos que mais de um século mais tarde Ehrlich obterá para o tratamento da sífilis.
Por seu lado, Wohler, que isolará mais tarde a cocaína das folhas da coca, conseguiu obter, em 1826, a síntese da ureia. Era pois possível obter a ureia no laboratório, sem a intervenção dos rins, mas, mais do que isso, ficava demonstrado que era possível sintetizar um composto de existência biológica sem a intervenção da misteriosa “força vital”, presente até então em praticamente todos os sistemas de medicina. Com a possibilidade de sintetizar novas moléculas orgânicas e estabelecido já a investigação experimental em biologia, o estudo dos medicamentos sofreu um grande avanço. A pouco e pouco começou-se a modificar as moléculas activas de origem vegetal, para aumentar a sua actividade e a sua selectividade. A investigação nos animais de experiência das moléculas naturais ou de síntese torna-se cada vez mais intensa; pretende-se conhecer a acção e o destino dessas moléculas no organismo, mas pretende-se também utilizar essas moléculas como ferramentas que permitam o estudo de mecanismos fisiológicos ainda desconhecidos. A farmacologia acabava assim a sua laboriosa gestação e irá, rapidamente, ganhar um lugar como ciência separada da fisiologia, à qual pagará, nos anos seguintes, e com acréscimo, tudo o que esta tinha posto no seu berço. Foi talvez Magendie, embora ilustre fisiologista, o primeiro farmacologista, pois estudou a acção nos animais de numerosas substâncias (morfina, emetina, estricnina, veratrina, etc.) e publicou no primeiro quartel do século XIX um interessante livrinho chamado “Formulário para a preparação e emprego de vários medicamentos novos”.
Claude Bernard, o mais distinto discípulo de Magendie, foi o primeiro a utilizar substâncias farmacologicamente activas como ferramentas para o estudo de alguns mecanismos biológicos. Os seus estudos sobre o curare são hoje clássicos. Apesar do importante papel dos investigadores franceses na edificação da farmacologia, o primeiro Instituto de Farmacologia foi fundado em Giessen, em 1844, por Philip Phoebus. O seu sucessor, Rudolf Buchheim, que tinha fundado um Laboratório de Farmacologia, em 1847, em Dorpat, na Estónia, então, como agora, sob domínio moscovita, é geralmente considerado como o verdadeiro iniciador dos estudos farmacológicos modernos. Sob a sua direcção estudou Oswald Schmiedberg. Este ilustríssimo discípulo de Buchheim acabou por instalar o seu Instituto de Farmacologia em Estrasburgo em 1870, logo após a guerra franco-prussiana. Publicou o primeiro jornal de Farmacologia Experimental, que ainda continua a publicar-se, os seus trabalhos fizeram escola e o seu Instituto de Estrasburgo tomou-se a Meca de todos aqueles que pretendiam dedicar-se à nova ciência. Pode dizer-se que a primeira geração de farmacologistas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, tem as suas raízes em Estrasburgo.
Situemo-nos agora em Portugal.
Até à aplicação do método experimental à investigação biológica e, portanto, até à emergência dos estudos farmacológicos, Portugal acompanhou de perto os estudos de Matéria Médica feitos nos países mais avançados da Europa e, nalguns aspectos, enriqueceu significativamente esse património, embora, cá como lá, o ensino da Matéria Médica continuasse a fazer-se, até meados do século XVIII, quase exclusivamente com base nos livros de Galeno e de Avicena e nas obras que os comentavam e acrescentavam.
São inúmeras as obras de autores portugueses que durante esse longo período testemunham a vitalidade da Matéria Médica portuguesa. Referirei apenas alguns a partir do século XVI, pois só a partir de aí deles há notícia fidedigna, salvo no que respeita a Pedro Hispano. Pedro Hispano (ou Pedro Julião) , que havia de vir a ser o Papa João XXI, tornou-se célebre com o seu livro “0 tesouro dos pobres”. Professor em Bolonha, exerceu grande influência na vida das Universidades medievais, sobretudo nos assentos da lógica, pois no campo da Matéria Médica pouco de significativo acrescenta a Galeno e Avicena.
Tudo se passa, porém, de outra forma a partir do século dos Descobrimentos, com tudo o que a índia e o Brasil trouxeram para Portugal. Como na homenagem a Sílvio Rebello lembrou o saudoso Professor José Toscano Rico, “não passaram despercebidos aos viajantes e aos sábios farmacólogos de então as numerosas drogas que dessas regiões vieram enriquecer a Matéria Médica nacional, e as novas plantas foram estudadas e tomadas conhecidas segundo o estilo da época”. E o eminente Professor acrescentava: “É uma obra essencialmente portuguesa, com larga projecção internacional. Foram capítulos novos da Matéria Médica que se escreveram e aos quais ficou ligado o nome de Portugal”. João Rodrigues Castelo Branco, o célebre Amato Lusitano, nascido em Castelo Branco em 151 I, estudou Medicina em Salamanca e aí exerceu clínica. Regressou depois a Portugal, mas como temesse a lnquisição, partiu para Antuérpia, viajando depois pela Europa, convivendo com os maiores médicos do tempo. Solicitado por várias Universidades, foi professor na de Ferrara, indo depois para Roma, para tratar o Papa Júlio 111. Perseguido por causa da sua religião, acabou por morrer de peste em Salónica em 1568. Além de grande médico e insigne humanista, Amato Lusitano foi o primeiro grande observador da botânica peninsular, tendo deixado também, além das célebres Centuriae Medicinalis, interessantíssimos comentários à obra de Dioscorides.
Juntamente com o de Amato Lusitano devem citar-se outros nomes ilustres desse tempo, como os de Duarte Barbosa, Álvaro Velho, António Nunes e Tomé Pires.
Tomé Pires merece uma referência especial. Boticário régio e botânico, viajou para a índia em 1511, passando por Malaca e Cochim. Adquiriu tal fama que acabou por ser enviado como embaixador à China, onde morreu em 1540. A sua obra é notável, centrando-se sobretudo sobre as plantas medicinais do Oriente. Mas a maior glória neste período cabe sem dúvida a Garcia de Orta, com os seus “Colóquios dos simples e coisas medicinais da índia” obra publicado em 1563 e depois traduzido em latim por Clusius, professor em Leida, e mais tarde traduzido em todas as línguas europeias. Nesta obra se faz a mais perfeita descrição de muitas plantas medicinais do Oriente até então desconhecidas e nela se encontra a primeira nota a respeito do uso da Rauwolfia no tratamento de doenças mentais.
No entanto, a obra de Garcia de Orta não deve fazer esquecer outras obras importantes do século de quinhentos.
O “Tratado de las drogas y medicinas de la Índia”, do médico Cristóvão da Costa, o “africano”, como a ele próprio se chamava por ter nascido, cerca de 1538, em África (em Tânger ou Ceuta, ou talvez em Moçambique), foi escrita em Burgos, depois de uma vida aventurosa no oriente. Embora alguns críticos queiram ver na obra de Cristóvão da Costa uma quase tradução dos “Colóquios” de Garcia de Orta, a verdade é que outros lhe reconhecem um grande mérito, como o já mencionado Clusius, que lhe traduziu o seu tratado em latim.
Nas descrições das plantas medicinais do Brasil há também nomes a destacar, como os de Duarte Pacheco Pereira, António Galvão, Padre José de Anchieta, Padre Fernão Cardim, Magalhães Gondavo e Gabriel Soares de Sousa. Além de muitas outras informações, os escritos destes autores deram a conhecer o jaborandi, a ipeca, a canafistula e várias outras plantas medicinais brasileiras.
Para ilustrar as vicissitudes da historiografia muito peculiar dos cientistas de quinhentos, permitam-me que, ao lado dos jesuítas, que dilatavam a Fé e o Império, mas que estavam também atentos à natureza das novas terras, salientar, por exemplo, a figura de Gabriel Soares de Sousa. Nascido em Constância em 1540, partiu em 1569 numa armada que aportou a S. Salvador. Aí se fixou tomando-se rapidamente “senhor de engenho” na Baía. Voltou a Portugal em 1584, para adquirir a concessão de minas de ouro e pedras preciosas nas nascentes do Rio S. Francisco. Esta aquisição foi tão difícil que demorou 6 anos a conseguir. No decorrer destas diligências, ofereceu ao renegado Cristóvão de Moura um manuscrito que só viria a ser publicado nos meados do século XIX, pela Real Academia de Ciências de Lisboa e pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Para além de um enorme contributo para a história natural da Baía, há nessa obra uma descrição pormenorizada de muitas plantas medicinais baianas e do nordeste brasileiro. Este homem notável morreu em Paraguaçú, com avançada idade, estando enterrado no convento de S. Bento da Baía, sendo o seu epitáfio apenas o seguinte: “Aqui jaz um pecador”. Assim eram os homens que tomaram grande o nome de Portugal no século maior da História portuguesa.
Nos séculos XVII e XVIII a Matéria Médica continuou a enriquecer-se com as plantas medicinais dos novos mundos – como a quina, a ipeca, o chá, etc., reintroduziu-se o uso do antimónio, já preconizado por Paracelso e que naquela época deu lugar a acesa controvérsia, e introduziu-se o uso de preparações mercuriais para o tratamento da sífilis.
É notável, a este propósito, o livro de Duarte Madeira Arraes, publicado em 1683, com o título “Método de conhecer e curar o morbo gallico”. Merece também referência o papel desempenhado pelo médico português do papa Inocência X, Pedro da Fonseca, na divulgação do uso da quina, em cuja rocambolesca história os médicos portugueses tiveram também papel de relevo. Basta lembrar o médico judeu Fernando Mendes, que clinicou em Londres e vendeu a D. Pedro 11 o segredo da sua “Água de Inglaterra”, uma preparação de quina, mas com a condição de não divulgar a sua composição. Outro médico judeu, também a exercer clínica em Londres, preparou outra “Água de Inglaterra”, que dava então largos proventos. Este médico, Jacob de Castro Sarmento, veio a publicar em Londres, em 1756, o livro “Matéria Médica Físico-histórico-mecânica”, no qual descreve, a par de numerosos outros medicamentos, a sua preparação galénica de quina, livro que se diz ter sido escrito pelo grande Ribeiro Sanches e não por Castro Sarmento, que teria usurpado a sua autoria. Mas voltemos rapidamente um pouco atrás para lembrar o grande Abraão Zacuto Lusitano, mais um judeu fugido, este para Amsterdão em 1625. Dentre as numerosas obras médicas que deixou, é de salientar a sua Farmacopeia, notável para a época.
No capítulo das águas minero-medicinais, não gostaria de deixar de apontar o “Aquilógio Medicinal”, publicado em 1726 por Francisco da Fonseca Henriques, o célebre Dr. Mirandela, médico de D. João V; este livro é considerado o primeiro trabalho de conjunto sobre a riqueza hidrológica portuguesa, à qual Jacob de Castro Sarmento no seu já citado e controverso livro também se refere.
Das farmacopeias dos séculos XVII e XVIII lembrarei apenas, além da já mencionada de Zacuto, a “Polanthea medicinal” de Curvo Semedo, sem valor especial, e as farmacopeias de Caetano de Santo António e de Rodrigues Coelho.
Cito ainda, de passagem, os profundos estudos de plantas medicinais de -Vandelli e do grande Brotero, para me deter um pouco mais nessa sedutora figura que foi o médico Francisco Tavares, provido em 1783 lente de Matéria Médica em Coimbra, cátedra na qual sucedeu ao eminente José Francisco Leal. A par de uma actividade interessantíssima na investigação e no ensino, deixou-nos o operoso Dr. Francisco Tavares o livro “De Pharmacologia Libellus”, de 1786, e uma nova edição, corrigida e aumentada, já de 1809, “Pharmacologia novis recognita curis, aucta, emendata et hodierno seculo acomodara” que, no dizer do Professor Feliciano Guimarães, constitui, na sua 4 a parte, inteiramente nova, uma verdadeira farmacopeia. Não admira que assim fosse, pois o Dr. Francisco Tavares foi designado, com o Dr. Joaquim de Azevedo, para elaborar a “Farmacopeia Geral do Reino”, que seria, a partir da sua publicação, em 1794, declarada oficial, sendo todo o farmacêutico obrigado a ter um exemplar. Esta farmacopeia é obra exclusiva do Dr. Francisco Tavares. Seria injusto não citar ainda, dentre as obras médicas deste professor, dois livros sobre águas minero-medicinais portuguesas, nos quais o estudo químico ocupa lugar primacial. Por carta régia de 1804, na qualidade de físico-mor do Reino, foi o Dr. Francisco Tavares encarregado de orientar experiências e ensaios clínicos, nos mais importantes hospitais portugueses, de várias espécies de síncrona e de Portlandia de origem brasileira.
Estes estudos contribuíram para estimular as investigações químicas do célebre Bernardino António Gomes, que o haviam de levar, em 1812, a identificar o primeiro princípio activo conhecido das quinas, a cinchonina.
Bernardino António Gomes, homem do norte, pois nasceu em Paredes de Coura em 1768, formou-se em Medicina em Coimbra, foi médico da Armada e depois da Real Câmara. Esteve no Brasil, onde descobriu a lpecacuanha fusca. Fundou o Centro Botânico da Escola Médica de Lisboa e os seus trabalhos, escritos ou traduzidos em francês e inglês, grangearam-lhe grande reputação internacional.
Não se deve confundir, como alguns o têm feito, Bernardino António Gomes com o seu filho, do mesmo nome, nascido em Lisboa em 1806 e formado em Medicina em Paris e em Matemáticas por Coimbra. Foi lente de Matéria Médica na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Foi presidente da comissão de redacção da nova Farmacopeia Portuguesa e, digno herdeiro da fama de seu pai, deixou obra importante, ressaltando o notável livro “Elementos de Pharmacologia Geral ou Princípios Gerais de Matéria Médica e de Therapeutica”. Não pretendo fazer, nem em rápido bosquejo, a história das farmacopeias em Portugal; esta está feita por ilustre professor da Faculdade de Farmácia do Porto; mas gostaria de lembrar aqui, a propósito das obras do século XIX, o “Código Pharmaceutico Lusitano”, do médico José Pereira Reis, formado em Coimbra, mas lente de Matéria Médica e Farmácia na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. É tão notável esta obra que, tendo sido declarada farmacopeia legal, em 1835, viu uma terceira edição póstuma também declarada farmacopeia legal por Real Decreto de 186 I, no qual, muito curiosamente, se diz a dado passo: “Considerando que deve decorrer ainda um largo espaço de tempo antes que venha a ser publicado a pharmacopea legal, que a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto está preparando nos termos dos seus estatutos e que não pode prescindir-se durante elle de um livro que sirva para o ensino e a pratica da Pharmacia; conformando-me com a consulta do Conselho da Faculdade de Medicina da mesma Universidade e com o parecer do respectivo Reitor: hei por bem decretar que a nova edição do Código Pharmaceutico Lusitano sirva de pharmacopeia legal, e de compêndio nas escolas, até que seja apresentada e aprovada a pharmacopea a cargo da Universidade”. Estava chegado enfim o momento em que, na Europa, aplicado o método experimental à biologia, a fisiologia se desenvolvia velozmente e, juntamente com os avanços da química, a farmacologia começava a sua gestação. Em Portugal, porém, não havia condições para se realizarem estudos experimentais em animais. É certo que já no primeiro quartel do século XIX Bernardino António Gomes havia feito estudos acerca da acção de cozimentos da casca da romeira sobre os proglótidos da ténia, mas, depois disso, nada mais se encontra até aos trabalhos do Professor Pinto de Magalhães sobre o estrofanto, realizados no fim do século passado no Instituto Câmara Pestana, em Lisboa, único Laboratório onde então se conseguia fazer alguma investigação experimental.
Na verdade, deve dizer-se, como o Professor José Toscano Rico o fez mais de uma vez, que foi a incompreensão dos dirigentes responsáveis da organização científica do país que atrasou de meio século a cultura da Farmacologia Experimental em Portugal.
Estava quase a acabar o século passado quando, em Lisboa, o Professor Miguel Bombarda consegue uma verba de 100 contos para apetrechar a Escola Médica. Desses cem contos, dez cabem à Matéria Médica. O Professor Pinto de Magalhães parte para uma viagem à Europa, da qual resulta a aquisição de alguns aparelhos essenciais, uma colecção de drogas e alguns produtos químicos, enfim tudo o que vai constituir o embrião do que, depois, viria a ser o Instituto de Farmacologia de Lisboa, o primeiro Instituto de Farmacologia Experimental a ser fundado em Portugal.
O Professor Pinto de Magalhães optou mais tarde pela Anatomia Patológica; o seu sucessor, Silvio Rebello, continuou na medida do possível o embrião deixado pelo Professor Pinto de Magalhães e no seu Laboratório realizou os primeiros estudos de Farmacologia Experimental, em moldes modernos, no nosso país. Instituída em 1911 a Cadeira de Farmacologia, Sílvio Rebello ocupa-a após concurso e, reconhecido o Instituto de Farmacologia, logo Sílvio Rebello reorganizou o ensino da Farmacologia de acordo com os programas dos países mais avançados da Europa. Reconhecida a necessidade de actualizar a sua preparação, parte para Estrasburgo, onde estagia com Schmiedberg e contacta com outros farmacologistas, indo depois trabalhar com Tappeiner, em Munique, e com Benedicenti, em Génova.
Regressado a Portugal, iniciou estudos de Farmacologia Experimental em diversas áreas, firmando-se a nível nacional e internacional como o primeiro verdadeiro farmacologista português.
As suas investigações foram já objecto de apreciação exaustiva por Celestino da Costa, em 1933, e por José Toscano Rico em 1945. Apenas para citar um exemplo desses estudos, lembrarei as investigações sobre a aferição biológica de anti-helmínticos. O método estudado e proposto por Sílvio Rebello foi citado pelos mais conceituados tratados de farmacologia de então.
Além de se ter dedicado também à Hidrologia Médica, Sílvio Rebello deixou uma adaptação portuguesa, não uma mera tradução, do célebre lavro de Farmacologia Experimental e Terapêutica do não menos célebre Paulo Trendelemburg, pai do nosso amigo e doutor pela Universidade do Porto, Ulrich Trendelemburg.
Sílvio Rebello teve muitos discípulos, um dos quais havia de se tomar o seu insigne continuado. E se o mestre se honra por ser o discípulo maior que o mestre, também essa honra teve o Professor Silvio Rebello. Na verdade, o seu sucessor foi o Professor José Toscano Rico, cuja grandiosa obra farmacológica e universitária todos conhecem e foi há poucos anos publicamente apreciada pelo nosso colega Professor Walter Osswald. Prefiro, por isso, neste momento, prestar uma comovida homenagem a quem foi, sem dúvida, até agora, o maior vulto da Farmacologia portuguesa e ao qual a nossa Sociedade deve a sua fundação.
O Instituto de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, sob a direcção, a partir de 1934, do Prof. José Toscano Rico, cuja formação havia tido a moldá-la não só Silvio Rebello, mas também Paulo Trendelemburg, com quem trabalhou em Berlim, deu origem a farmacologistas ilustres, não apenas para a Faculdade de Medicina de Lisboa como os malogrados Professores Mendes Alves, Andresen Leitão e o seu sucessor, o nosso colega Professor J.M. Gião T. Rico, mas que irradiaram para outros centros. Com o Professor Peres Gomes o Instituto de Ciência Gulbenkian, que o Professor Alexandre Ribeiro hoje dirige, tornou-se um notável centro de investigação de Farmacologia Experimental. Com o Professor Malafaya Baptista, nosso querido e inolvidável antecessor na Cátedra de Farmacologia na Faculdade de Medicina do Porto, tornou possível que o Laboratório de Farmacologia da minha Escola se viesse a tornar também um frutuoso centro de investigação farmacológica. Com Silva e Sousa ficou assegurada a investigação farmacológica na Faculdade das Ciências Médicas de Lisboa. Além disto, são inumeráveis os exemplos que se poderiam dar da decisiva influência do Instituto de Farmacologia de Lisboa e do Professor José Toscano Rico no desenvolvimento da Farmacologia Experimental em Portugal. Em Coimbra, as coisas passaram-se de modo pouco diferente.
Criada a cátedra de Farmacologia com a reforma de 1911, o então lente de Matéria Médica, o Professor Lúcio Rocha, passou a ocupá-la transitoriamente, por acumulação com a cátedra de Terapêutica, que tivera a sua preferência. O Professor Lúcio Rocha, que já antes tentara estimular os estudos de farmacologia experimental nos Laboratórios de Microbiologia e Química Médica e no de Histologia e Fisiologia Geral, os únicos onde se podia fazer alguma coisa, logo procurou organizar o Laboratório de Farmacologia, aproveitando algum mobiliário e algum material já existente na Faculdade para remodelar o antigo Laboratório e Museu de Matéria Médica. Foi seu auxiliar, desde o início, o então 2′. Assistente Feliciano Guimarães, que depois lhe havia de suceder na cátedra. A pouco e pouco foram-se melhorando as Instalações e o equipamento, o que foi permitindo melhorar os trabalhos práticos no ensino da Farmacologia e executar alguma investigação experimental, da qual surgiu a dissertação de doutoramento do Prof. Feliciano Guimarães em 1914, professor a quem foi confiada a regência da cadeira no ano seguinte. Em 1918 Feliciano Guimarães era empossado, por convite da Faculdade, professor catedrático de Farmacologia. O então Laboratório passou a designar-se Instituto. A actividade investigacional do Professor Feliciano Guimarães, limitada pela escassez de meios está bem documentada nos Arquivos do Instituto de Farmacologia e Terapêutica Experimental e nas Publicações do Instituto de Climatologia e Hidrologia da Universidade de Coimbra, onde quase todos vieram à luz. Não quero, no entanto, deixar de lembrar o livro, escrito de colaboração com Lobato Guimarães, “Hidrologia Médica e Águas Minerais Portuguesas”, obra que veio preencher uma lacuna importante da literatura médica portuguesa e que mostra a propensão da escola de Coimbra, bem cedo demonstrada, para o estudo científico dos problemas da Hidrologia Médica.
Atingido pelo limite de idade em 1955, sucedeu a Feliciano Guimarães o Professor Lobato Guimarães.
Este querido colega, tão cedo e tão tragicamente desaparecido, foi o grande auxiliar de Feliciano Guimarães na estruturação das novas instalações do Instituto de Farmacologia, as actuais, na cidade universitária. Segundo assistente em 1942, após a licenciatura, o Professor Lobato Guimarães doutorou-se em 1950, com um notável trabalho sobre aferição biológica de digitálicos. Professor Extraordinário em 1957, após concurso de provas públicas, tomou-se em 1960 Professor Catedrático de Farmacologia, também após concurso de provas públicas.
Homem de grande estatura moral, de viva inteligência e profundo espírito universitário, cedo foi chamado pela sua Universidade a crescentes responsabilidades, desde a remodelação do ensino da enfermagem e a direcção da Escola de Enfermagem Rainha Santa Isabel até à organização da Faculdade de Medicina de Lourenço Marques e do ensino, nela, da Farmacologia e da Terapêutica Geral. Atraído pelos problemas da classe médica, exerceu notável actividade na Associação dos Médicos Católicos e na Ordem dos Médicos, nesta particularmente no estudo das carreiras médicas e como Bastonário.
É certo que estas actividades lhe deixaram pouco tempo para a investigação científica, da qual se enamorara, sobretudo depois do seu estágio em Oxford, em 1950-51, com o Professor Burn e seus colaboradores. Não deixou, no entanto, de investigar e, sobretudo, não deixou, com a sua perspicácia e inteligência, de descobrir as altas qualidades da Professora Tice Macedo, cuja vocação para a Farmacologia em boa hora soube despertar, e que havia de se tornar seu sucessor na cátedra de Farmacologia, que hoje honra da forma elevada que todos conhecemos. Essa mesma inteligente perspicácia levou também o Professor Lobato Guimarães a descobrir o valor do seu directo colaborador em Lourenço Marques, o Professor Frederico Teixeira, que sob a sua influência se apaixonou pela Farmacologia de tal modo que se tornou hoje num Professor de Terapêutica Geral exemplar e num considerado investigador de farmacologia experimental. No Porto a investigação farmacológica experimental começou um pouco mais tarde. Entregue a cátedra de Farmacologia ao Dr. José Maria de Oliveira, logo este, além de cuidar com toda a competência e carinho da docência, como o comprovam as duas edições impressas do “Programa descritivo de Farmacologia”, a primeira de 1920 e a segunda de 1927, que fez publicar, dedicou-se à investigação farmacológica, apesar da quase ausência de recursos e da sua abalada saúde. Era um homem de excelente formação, que havia passado pela cirurgia e depois pela fisiologia e que sempre havia demonstrado uma grande curiosidade. São dos anos 20 os seus trabalhos de investigação experimental sobre as acções cardíacas da esparteína e de princípios activos de outras plantas do género Spartium e Retama; o trabalho sobre a Retama sphaerocarpa é notável para a época. Em 1929, o que havia de se tornar mais tarde um notabilíssimo professor de Farmacologia e um investigador de alta craveira, o Dr. Alberto de Athaide Malafaya Baptista, foi nomeado, após concurso, assistente de Farmacologia. Teve ainda oportunidade de colaborar com o Professor José Maria de Oliveira; o trabalho sobre o poder dessensibilizante das águas quentes de Monção são um exemplo dessa colaboração. O Professor Malafaya Baptista investigou ainda, nessa época, alguns aspectos farmacodinâmicos da harmina, mas, em 1934, verificando que as condições do Laboratório de Farmacologia não eram favoráveis a estudos de maior vulto, foi trabalhar para o Instituto de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, de cuja direcção o Professor José Toscano Rico acabara de tomar posse, após a sua ascensão a Professor Catedrático.
Iniciou aí o Professor Malafaya notáveis investigações sobre a inactivação da adrenalina no organismo 9 que haviam de culminar na conclusão, em 1938, de uma notabilíssima Dissertação de Doutoramento, obra que por si só define a categoria excepcional de farmacologista do seu autor.
Regressado ao Porto, com muito esforço e vencendo inaceitáveis incompreensões, conseguiu magras verbas do Conselho Escolar, que maiores as não tinha, e magros subsídios do IAC, com o que melhorou um pouco o equipamento do Laboratório e lhe foi possível visitas aos melhores centros de Farmacologia da Alemanha, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Datam dessa época variados trabalhos, dos quais destaco, pela sua importância, os estudos comparativos da aferição biológica e da titularão química de preparações galénicas de beladona e de Nerium oleander do Alentejo. Para se fazer uma ideia do esforço que o Professor Malafaya teve que fazer para realizar tais trabalhos bastará repetir aqui o que a propósito disse em 1967, na sessão solene de homenagem à memória do nosso querido Professor. Mesmo em 1943, quando comecei a colaborar, como assistente voluntário, com o Professor Malafaya, li o Laboratório de Farmacologia estava instalado (e 14 ficou nos longos anos que se lhe seguiram até 1959) numa lúgubre sala do rés-do-chão, voltada para o quartel do Carmo, cujas paredes corroídas e sujas, a escassos metros de distância, eram o único pouso dos olhos, quando estes queriam apartar-se da chocante pobreza e do triste desconforto do ambiente”. Aparelhos, poucos havia (alguns instrumentos mecânicos de medida, algum material de vidro, uma balança de precisão, uma bobine de Rumkorf e pouco mais). Como pessoal auxiliar, apenas um velho empregado que não gostava ou tinha medo de lidar com animais.
Mesmo assim, esse pouco material e a total disponibilidade do Laboratório de Cirurgia Experimental, então dirigido pelo Professor Hernâni Monteiro, o grande motor da investigação experimental na nossa Faculdade, permitiram ao então jovem assistente elaborar a sua Dissertação de Doutoramento, que defendeu em 1950, e colaborar com o Professor Malafaya nalgumas tentativas investigacionais de que o trabalho acerca dos efeitos da sulfanilamida sobre a actividade de extractos de tireóide, que ambos publicámos em 1948, constituem um exemplo. Provido Professor Extraordinário em 1944, após concurso de provas públicas, e tendo já o Professor Malafaya doutorado o seu até aí único colaborador, foi possível obter mais um lugar de assistente de farmacologia, em 195 I, que foi ocupado pelo agora Professor Walter Osswald. Essa nomeação permitiu a minha deslocarão à Bélgica, em 1953-54, para um estágio na Universidade Livre de Bruxelas. Após o meu regresso, o Professor Malafaya podia enfim contar com a sua primeira equipa, à qual depressa se vieram juntar os agora Professores Serafim Guimarães e Rodrigues Pereira e um pouco mais tarde, o agora Professor Jorge Tavares. Pôde assim, a par de algumas progressivas melhorias no equipamento laboratorial desenvolver o Professor Malafaya a actividade investigacional com que sempre sonhara. Essa actividade foi tão intensa que se traduziu, de 1954 a I ‘ 966, ano em que a morte tão prematuramente o levou, em 20 trabalhos publicados nas mais reputadas revistas internacionais da especialidade, numa média inacreditável para os recursos existentes de quase dois trabalhos por ano.
Ao Professor Malafaya Baptista se deve, pois, não só o arranque e uma boa parte da investigação farmacológica experimental no Porto, mas também tudo o que os seus discípulos procuraram fazer quando ficaram sós.
Ao invocar o meu querido Professor Malafaya, é com a mais vivida saudade que lhe presto a minha homenagem agradecida.
Hoje, apesar de todas as limitações que todos conhecemos, o panorama da investigação farmacológica experimental em Portugal modificou-se completamente, sendo bastante mais animador.
O esforço dos pioneiros que tão insípida e rapidamente lembrei, desabrochou em mais de oito centros de investigação, nas Faculdades de Medicina e de Farmácia e no Instituto de Ciência Gulbenkian. A produtividade desses centros está bem patente na participação nas reuniões da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, nas reuniões conjuntas da nossa Sociedade com as congéneres estrangeiras e em congressos internacionais, nomeadamente os Congressos Internacionais de Farmacologia. A qualidade dos trabalhos produzidos está testemunhada pela elevada exigência editorial das revistas onde são publicados. Não admira, pois, que o prestígio da ciência farmacológica portuguesa tenha atravessado as fronteiras e os nossos farmacologistas formem, lado a lado, com os mais categorizados farmacologistas do mundo, sem qualquer sinal de inferioridade. A apreciação da actividade destes centros e, portanto, da investigação farmacológica em Portugal nas últimos decénios, exige trabalho de maior busca. Certamente alguém o fará, antes que o tempo leve aqueles que ainda conheceram bem tal período.
Por mim, procurei apenas lembrar as raízes, honrando quem nos precedeu, para neles procurarmos alento para os mais novos, para que estes tomem com entusiasmo a estafeta e prossigam num caminho ascendente. Foi esse o grande sonho que animou os pioneiros ao vencerem as condições adversas que tiveram que enfrentar.
José Ruiz de Almeida Garret Filho de António de Almeida Garrett e Maria Ruiz de Almeida Garrett,nasceu no Porto, no dia 10 de Agosto de 1919. 1943 – Conclui a licenciatura em Medicina e Cirurgia, pela Faculdade de Medicina Porto. 1944 – Nomeado 2′ Assistente do 2′ Grupo da Faculdade de Medicina do Porto. 1950 – Prestou provas de doutoramento, na Faculdade de Medicina do Porto, com a dissertação intitulada “A via arterial em terapêutica”, tendo sido aprovado, por unanimidade, com a classificação de 18 valores. Nomeado 1º Assistente do 2º Grupo da Faculdade de Medicina do Porto. 1953 – Estagiou com o Professor Jean La Barre no “Laboratoire de Pharmacodynamie et de Thérapeutique” da Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas. 1958 – Prestou provas públicas no concurso para Professor Extraordinário do 2′ Grupo da Faculdade de Medicina do Porto, tendo sido aprovado por unanimidade. Nomeado regente da disciplina de Terapêutica Geral e Hidrologia, da Faculdade de Medicina do Porto. Designado vogal da Comissão Técnica dos Novos Medicamentos, Direcção Geral de Saúde da qual solicitou a exoneração em 1962. 1966 – Nomeado regente da disciplina de Farmacologia, da Faculdade de Medicina do Porto. Nomeado regente da disciplina de Hidrologia Geral , do Curso de Hidrologia e Climatologia Médicas da Universidade do Porto. 1967 – Prestou provas públicas no concurso para uma vaga de Professor Catedrático do 2′ Grupo da Faculdade de Medicina do Porto, tendo sido aprovado por unanimidade.Designado vogal da Comissão Permanente da Farmacopeia Portuguesa. Nomeado Professor Catedrático do 2º Grupo da Faculdade de Medicina do Porto. 1968 – Director da Faculdade de Medicina do Porto (até 1972). 1986 – Director do Departamento de Investigação e Desenvolvimento de Bial (até 1995). 1987 – Aposentação da Faculdade de Medicina do Porto. 1988 – Agraciado com a Medalha de Prata de Mérito Europeu. 1991 – Agraciado com a Medalha de Ouro de Mérito Europeu. Durante mais de cinquenta anos de actividade científica publicou cerca de cem artigos científicos, a sua maioria em revistas internacionais da especialidade, e orientou diversas dissertações de doutoramento e licenciatura. Como docente marcou várias gerações de estudantes de Medicina e médicos. Ao editar a obra “Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas” deu um contributo ímpar para um maior conhecimento da Farmacologia no mundo de expressão portuguesa. Como cientista marcou uma época da Farmacologia e preparou terreno para que esta vingasse como Ciência em Portugal. Através da organização regular dos “Meetings on Adrenergic Mechanisms” projectou além fronteiras, a partir de 1970 e durante mais de duas décadas, a investigação adrenérgica realizada no então “Laboratório de Farmacologia” da Faculdade de Medicina do Porto. Foi sócio-fundador da Sociedade Portuguesa de Farmacologia e presidiu à Direcção da mesma no quadriénio 1973-1976. Entre outras actividades, desempenhou na Ordem dos Médicos os cargos de vogal do Conselho Regional do Porto e do Conselho Disciplinar Regional (1956-8), vogal da Assembleia Geral (l959-61) e Presidente do Conselho Regional do Porto (l962-4). Foi Director da Revista “Portugal Médico” e colaborador-fundador da revista “Medicina et Pharmacologia Experimentalis” (S. Karger, Basileia). Foi Presidente do Sector dos Médicos da Liga Universitária Católica, da Acção Católica Portuguesa, e dirigiu o semanário católico “A Ordem”. Faleceu no Porto, a 6 de Novembro de 1996. |